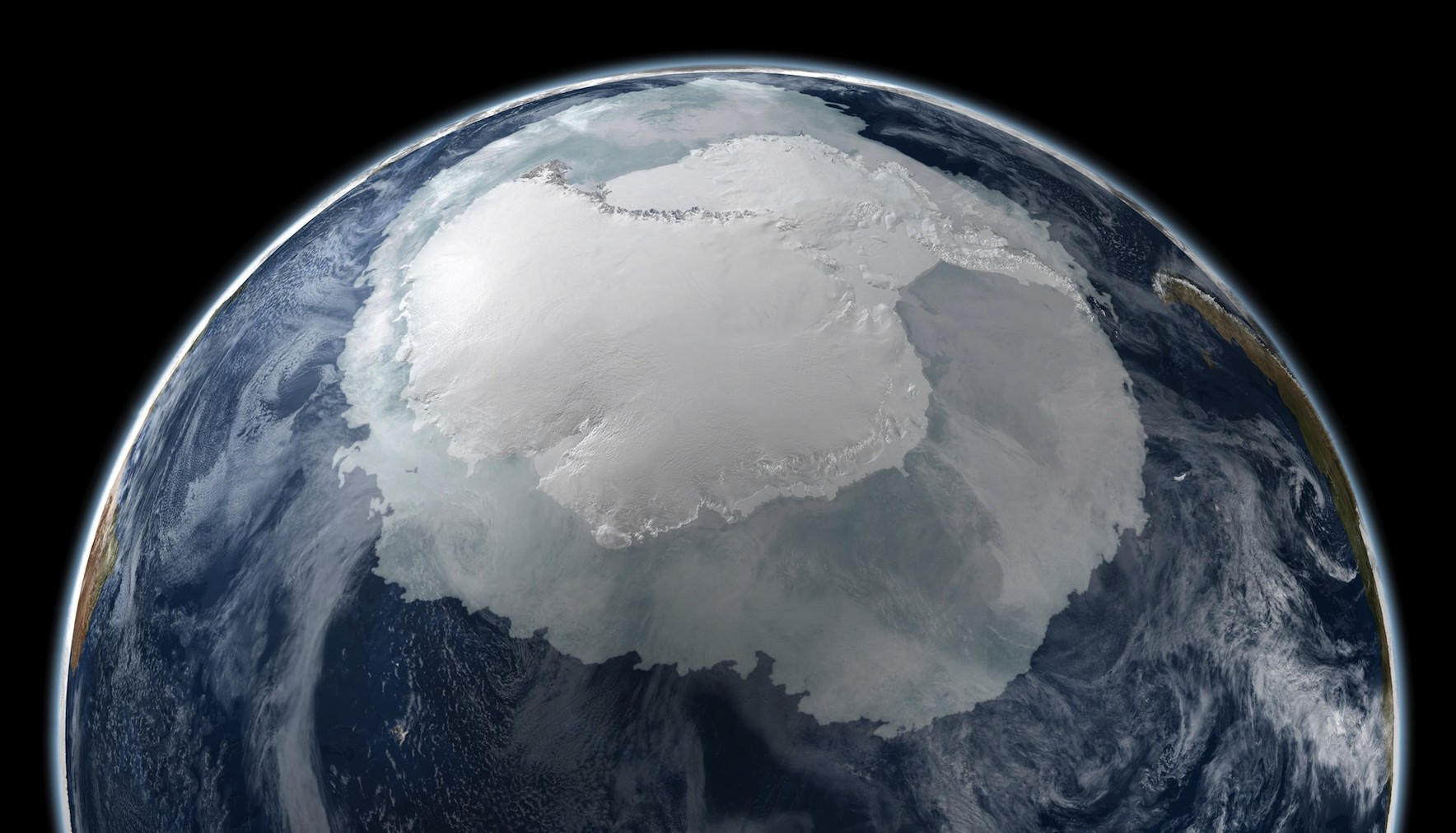Da América Latina ao Oriente Médio, a política externa norte-americana repete um método que produz morte, instabilidade e a destruição da soberania dos povos.
A política externa dos Estados Unidos não é uma série de incidentes isolados, fruto de exceções históricas ou decisões intempestivas. Pelo contrário: trata-se de um projeto de poder secular, amparado em narrativas de defesa da democracia, do combate ao terrorismo ou da proteção de “valores universais”, mas que há muito tempo opera como mecanismo de imposição unilateral de interesses estratégicos e econômicos, muitas vezes em violação direta à soberania de nações independentes.
Desde o século XIX, a chamada Doutrina Monroe estabeleceu que qualquer interferência europeia no Hemisfério Ocidental seria considerada uma ameaça aos interesses dos EUA, legitimando, no fundo, a ideia de que as nações americanas estão sob a jurisdição política de Washington. Essa concepção foi depois reinterpretada e ampliada em políticas como o Corolário Roosevelt ou, mais recentemente, a recém-batizada “Donroe Doctrine” do presidente Donald Trump, ideia que reforça a supremacia dos EUA nas Américas e justifica ações agressivas contra governos considerados contrários aos seus interesses geopolíticos e econômicos.
Sequestro de um chefe de Estado: Venezuela, 2026
No início de janeiro de 2026, os Estados Unidos conduziram uma operação militar direta em território venezuelano que culminou na captura — ou, como muitos Estados-membros da ONU qualificaram, no sequestro — do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, enquanto estavam em Caracas. A operação, conduzida por forças especiais americanas, envolveu bombardeios para suprimir defesas aéreas e ataques contra infraestruturas militares antes da entrada das tropas em Caracas.
Segundo informações oficiais e relatórios governamentais venezuelanos, pelo menos 24 membros das forças de segurança venezuelanas foram mortos, assim como 32 militares e policiais cubanos que integravam a segurança da presidência — e dezenas de civis também morreram no confronto, embora os números precisos ainda sejam objeto de investigação.
Líderes de diversos países e representantes na Organização das Nações Unidas denunciaram a ação como crime de agressão e violação flagrante da soberania venezuelana, comparando-a a uma blitz colonial que “trazia lembranças dos piores ciclos de interferência imperialista no continente”.
A justificativa oficial dos EUA de que a ação se trataria de uma operação de “cumprimento da lei” para fazer valer acusações penais contra Maduro — aqui denominada de narrativa instrumental de narcoterrorismo — foi amplamente contestada por juristas internacionais, que apontaram que tal operação militar sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, nem consentimento venezuelano, viola o direito internacional e a Carta das Nações Unidas.
Intervenções históricas: um padrão longe de ser ocasional
O episódio venezuelano, dramático em si, encaixa-se em um padrão histórico de intervenções.
Na América Latina, esse padrão histórico se manifesta de forma inequívoca. No Chile, em 1973, a derrubada do governo democraticamente eleito de Salvador Allende contou com apoio logístico, político e estratégico dos Estados Unidos, por meio da CIA, abrindo caminho para a ditadura de Augusto Pinochet — um regime marcado por assassinatos, torturas, desaparecimentos e pela destruição das instituições democráticas. Poucos anos antes, em 1964, o Brasil viveu processo semelhante. Documentos oficiais já tornados públicos confirmam que a elite militar brasileira recebeu apoio explícito de Washington para depor o presidente João Goulart, inaugurando uma ditadura que se estenderia por 21 anos, marcada pela censura, repressão sistemática e violência de Estado. Em 1989, no Panamá, a chamada Operation Just Cause repetiu o mesmo roteiro: sob o discurso de restaurar a democracia, tropas norte-americanas invadiram o país, derrubaram o governo de Manuel Noriega e deixaram um número de mortos civis que até hoje permanece subestimado — centenas segundo dados oficiais, possivelmente milhares segundo organizações locais — culminando na prisão de Noriega em solo norte-americano, em 3 de janeiro de 1990.
A extensa lista de intervenções estrangeiras conduzidas pelos Estados Unidos chega a centenas, cobrindo desde o século XIX até nossos dias, com mais de 80 intervenções somente após 1945 — muitas delas sob justificativas de proteção, segurança ou promoção da democracia.
O padrão denunciado por Noam Chomsky
O linguista e pensador político Noam Chomsky define a política externa dos Estados Unidos com padrão contínuo de intervenções, sustentado por discursos morais que encobrem golpes de Estado, guerras e violações sistemáticas da soberania de outros países. Para ele, se os mesmos critérios usados contra países considerados inimigos fossem aplicados a Washington, os EUA figurariam entre os principais violadores do direito internacional. O custo humano — milhões de mortos e sociedades destruídas — raramente entra no centro do debate público, diluído por narrativas de “defesa da democracia” e “segurança global”.
Guerra do Vietnã: a derrota estratégica e a realidade humana
No cenário global, a Guerra do Vietnã permanece como um dos episódios mais emblemáticos dessa política de intervenção. Apesar de um poderio militar esmagador, os Estados Unidos não alcançaram seus objetivos estratégicos e foram derrotados por uma combinação de determinação nacional e estratégia militar conduzida por Ho Chi Minh e pelas forças do Viet Cong — um fato que desmonta a narrativa de “força imbatível” e demonstra que a intervenção militar, mesmo com superioridade tecnológica, pode falhar diante da vontade nacional e de um projeto político coeso.
O custo humano dessa guerra foi colossal: estimativas apontam que mais de 3 milhões de vietnamitas morreram, além de cerca de 58 mil soldados norte-americanos — números que ilustram o caráter desastroso de uma intervenção que não se sustentou diante das realidades estratégicas e humanas do conflito.
No Oriente Médio, o padrão se repete sob outra forma. Diante do cerco e dos ataques em Gaza, onde dezenas de milhares de civis palestinos foram mortos — muitos deles mulheres e crianças —, os Estados Unidos mantiveram apoio político, diplomático e militar incondicional a Israel. Hospitais, escolas e infraestrutura civil foram repetidamente atingidos, e o assassinato de dezenas de jornalistas palestinos durante confrontos agravou ainda mais a crise do direito à informação e à proteção de civis.
A postura de Washington, que bloqueou resoluções internacionais para conter o avanço das operações e continuou a fornecer armas e respaldo diplomático, revela uma duplicidade moral: condena-se supremacia nuclear em um contexto, mas apoiam-se operações militares em outros. (O registro detalhado das mortes e das violações às normas humanitárias por grupos de direitos humanos e pela ONU não pode ser ignorado.)
O que une todos esses episódios — Venezuela, Panamá, Chile, Brasil, Vietnã e Gaza — é um traço sistemático: a imposição da vontade de um Estado sobre a soberania de outros, sob justificativas que muitas vezes não resistem à análise dos fatos, nem aos critérios do direito internacional ou das normas multilaterais estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial.
A importante reação interna recente — com o Congresso norte-americano reafirmando que decisões de guerra e invasão exigem aprovação do Senado — é um reconhecimento tácito de que as práticas externas não podem ser deixadas à discricionariedade unilateral do Executivo, por mais que sejam legitimadas por narrativas de segurança ou democracia.
Este não é um texto contra um povo. É uma denúncia contra uma política de Estado. Uma política que, ao longo de décadas, produziu milhões de mortos, destruiu democracias, silenciou jornalistas e transformou a soberania de países inteiros em algo condicional — nunca em um direito. Ignorar esse histórico não é neutralidade: é colaboração. Denunciá-lo não é radicalismo, mas responsabilidade histórica.
A crítica aqui não é retórica nem ideológica. É histórica, política e factual. Os documentos existem, os números são conhecidos e as consequências humanas são amplamente registradas. Trata-se de um padrão consistente de intervenções diretas, operações clandestinas, golpes de Estado, invasões militares e sanções coletivas, sempre justificadas por discursos morais que raramente resistem ao escrutínio dos fatos.
Não há democracia exportada por bombas. Não há direitos humanos sustentados por sanções que produzem fome, colapso sanitário e deslocamentos forçados. Não há liberdade construída sobre escombros, valas comuns e o assassinato de jornalistas. Quando a soberania de um país depende da autorização de outro, ela deixa de existir.
Persistir nesse modelo não é erro histórico, mas escolha política — e moral. Enquanto os Estados Unidos continuarem a tratar a autodeterminação de outros povos como algo negociável, o sistema internacional seguirá profundamente desigual, legitimando a violência quando ela parte do centro do poder e criminalizando-a quando vem da periferia.
O século XXI não pode normalizar práticas herdadas do século XX. Invasões, golpes e ataques à soberania — mesmo quando travestidos de defesa da democracia — produzem instabilidade, violência e mortes. A história já demonstrou isso de forma inequívoca, do Vietnã à América Latina, do Oriente Médio ao Caribe.
Se democracia e direitos humanos são valores universais, não podem ser impostos pela força nem aplicados seletivamente. Caso contrário, deixam de ser princípios e passam a funcionar como instrumentos de dominação. Democracia não se constrói com tanques; soberania não é concessão; paz não nasce da subjugação.
A soberania de qualquer país — seja na América Latina, no Oriente Médio ou em qualquer outra região — não pode ser relativizada conforme interesses geopolíticos. Normalizar sequestros de autoridades, ameaças militares e intervenções unilaterais abre um precedente perigoso: o de que a força substitui o direito.
A história já julgou esse método. O que permanece em aberto não é o diagnóstico, mas a disposição política de abandoná-lo. Democracia, paz e soberania não são slogans. São princípios. E princípios, quando não respeitados, cobram seu preço — sempre em vidas humanas.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
Prensa Mercosur es un diario online de iniciativa privada que fue fundado en 2001, donde nuestro principal objetivos es trabajar y apoyar a órganos públicos y privados.
- ★Este martes habrá un eclipse lunar, pero se verá parcial desde RD
- ★Cocodrilo fue capturado en Playa Laguna, en Cabarete
- ★Ley de Glaciares: alertan que la modificación aprobada en el Senado es ilegal y debe ser rechazada en Diputados
- ★Presidente do Sebrae diz que fim da escala 6×1 trará dignidade e fortalecerá a economia
- ★Así será el eclipse lunar de marzo